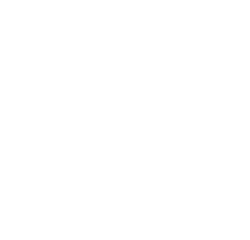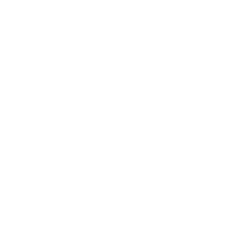O termo racismo estrutural descreve como o preconceito é reproduzido nas normas, práticas e instituições — incluindo, por exemplo, a escola, a segurança pública, a saúde, o mercado de trabalho e até as plataformas digitais.
Ele se manifesta quando livros didáticos apagam referências pretas e indígenas, quando piadas sobre tom de pele são normalizadas ou quando a expectativa de desempenho é menor para estudantes e profissionais pretos. Da mesma forma, está presente em abordagens policiais desiguais, processos seletivos excludentes e, inclusive, em algoritmos que reforçam vieses raciais.
Mesmo quando não há intenção explícita, o resultado é desigual. Essa desigualdade, por sua vez, retroalimenta a estrutura racista da sociedade, provocando hipervigilância, sensação de ameaça e sobrecarga mental.
Nesse sentido, quando olhamos para a saúde mental, fica evidente que viver sob o estresse crônico gerado pelo racismo — seja ele direto, velado ou institucional — produz sofrimento psíquico, corrói a autoestima, fragiliza vínculos e compromete oportunidades educacionais e profissionais.
Racismo estrutural: impactos sobre povos negros e indígenas
No contexto brasileiro, o racismo funciona como um sistema que produz desigualdades com base na raça, favorecendo pessoas brancas e desfavorecendo pessoas negras (pretas e pardas) e povos indígenas.
Embora o efeito comum seja a exclusão social, as formas de manifestação variam. No caso do racismo antinegro, ele se expressa na desvalorização da população preta, na imposição do padrão branco como referência e na violência institucional.
Já o racismo contra povos indígenas envolve, sobretudo, o apagamento cultural, a negação de identidades e os conflitos territoriais. Assim, apesar de se apresentarem de maneiras distintas, ambos integram a mesma estrutura que organiza hierarquias raciais no país.
Racismo estrutural em estatísticas
Segundo dados do IBGE, sintetizados em nosso Caderno de Letramento e Consciência Racial, as maiores taxas de analfabetismo e abandono escolar estão entre estudantes pretos. Além disso, esse grupo apresenta os menores índices de conclusão do ensino médio e superior. Consequentemente, essas desigualdades se refletem também no mercado de trabalho, na renda e na representação política.
A violência é outro marcador significativo de sofrimento. No Brasil, jovens pretos e pardos seguem sendo as principais vítimas de homicídio. Diante desse cenário, o estresse crônico, o medo e o luto recorrente tornam-se parte do cotidiano, afetando de forma direta a saúde mental individual e coletiva.
O impacto do racismo estrutural na saúde física e mental
Pesquisas com adolescentes associam o racismo ao maior risco de depressão, ansiedade, evasão escolar e envolvimento em comportamentos de risco, como, por exemplo, o uso de substâncias.
O racismo também afeta diretamente a formação da identidade. Crianças e jovens que crescem sem referências positivas, expostos a estereótipos e ao chamado racismo estético, tendem a internalizar mensagens de inferiorização.
Na prática, essa vivência resulta em autocrítica excessiva, baixa autoestima, sentimento de não pertencimento e insegurança para se afirmar. Muitas vezes, pessoas pretas recorrem a estratégias de “camuflagem” para se adequar a um padrão estético — como alisar o cabelo — ou ainda evitam exposição para reduzir a possibilidade de ataques.
Outros estudos mostram que experiências de discriminação aumentam as respostas psicológicas e biológicas ao estresse, alterando, portanto, hormônios e afetando funções cognitivas. No caso das crianças e adolescentes, manter o “sistema de estresse” ativado por longos períodos provoca efeitos negativos duradouros no aprendizado e no comportamento social.
Veja também: Racismo e infância.
O racismo atinge o corpo inteiro
O corpo, por sua vez, interpreta o racismo como uma ameaça. Neste contexto, a hipervigilância constante altera o funcionamento hormonal e neurológico. Isso se traduz em sono fragmentado, fadiga, dores crônicas, sintomas ansiosos e depressivos, pior imunidade e menor adesão a cuidados preventivos.
Nas gestantes, a violência obstétrica e a negligência institucional somam riscos. Quando a pessoa evita ambientes por medo de hostilidade, perde sua rede de apoio; quando a instituição falha, instala-se desconfiança que retarda a busca de ajuda. Falar de racismo, portanto, também é falar de prevenção e acolhimento.
Racismo estrutural: engrenagens invisíveis
Compreender o racismo estrutural exige, antes de tudo, nomear suas engrenagens. Por exemplo, as microagressões — comentários, piadas ou “brincadeiras” sobre pele, cabelo ou sotaque — podem parecer inofensivas à primeira vista, no entanto, têm efeito cumulativo que, ao longo do tempo, levam ao estresse crônico.
Já o colorismo reforça as desigualdades ao organizar privilégios dentro do próprio grupo racial: quanto mais próximo do “padrão branco”, mais portas tendem a se abrir. Nesse cenário, a branquitude passa a ser tratada como o padrão “normal”, isto é, a referência a partir da qual os demais são vistos como “racializados”.
Somam-se a isso outras manifestações, como o racismo recreativo, quando a ofensa vira diversão; o racismo religioso, que desqualifica tradições de matriz africana; o racismo ambiental, que empurra populações pretas e indígenas para territórios mais poluídos ou com menos infraestrutura; e o racismo algorítmico, que reproduz exclusões digitais.
Nada disso ocorre isoladamente. Ao contrário, elas se sobrepõem e se intensificam, especialmente quando raça, gênero, classe e território se cruzam — o que torna indispensável uma resposta interseccional.
Racismo estrutural no trabalho e saúde mental organizacional
Nas organizações, o racismo estrutural se manifesta em diferentes etapas dos processos internos, incluindo recrutamentos, avaliações de desempenho, promoções e práticas de comunicação. Portanto, políticas de equidade precisam sair do discurso e entrar na prática, com a definição de metas claras, transparência de dados, formação contínua de lideranças, canais seguros de denúncia e acesso a cuidado psicológico culturalmente competente.
Além disso, cuidar da saúde mental de profissionais pretos implica prevenir microagressões, corrigir vieses presentes nos processos e reconhecer a carga emocional adicional associada à necessidade constante de provar competência e valor. Dessa forma, a promoção da equidade torna-se efetiva e sustentável.
Marcos legais e responsabilidade coletiva
No Brasil, desde 2023, o ordenamento jurídico passou a reforçar que discriminar é crime. A Lei nº 7.716/1989 tipifica o crime de racismo, enquanto a Lei nº 14.532/2023 equiparou a injúria racial ao racismo, prevendo penas mais severas e agravantes quando o ato ocorre, por exemplo, nas redes sociais.
Entretanto, leis sozinhas não bastam. Por isso, são necessárias políticas públicas, protocolos institucionais e formação continuada que transformem as práticas cotidianas. Também é preciso integrar o enfrentamento ao racismo aos fluxos de acolhimento e às ações de cuidado emocional em todas as esferas da sociedade — afinal, o racismo estrutural está entranhado em todas elas.
Como combater o racismo estrutural nas escolas?
O combate ao racismo deve ser um compromisso coletivo, com ações nos níveis individual, institucional e social — incluindo prevenção, acolhimento, responsabilização e reparação.
Primeiramente, a representatividade é um passo decisivo. Acervos, murais e currículos precisam incluir cientistas, autores e artistas pretos e indígenas como protagonistas. Dessa forma, fortalecem-se a autoestima, o senso de pertencimento e a autoconfiança desde cedo.
Da mesma forma, quando há um currículo antirracista, relações de cuidado e valorização da diversidade, constatamos efeitos protetivos claros: autoestima mais sólida, maior engajamento acadêmico e melhor convivência social.
Assim sendo, a escola pode atuar como um verdadeiro motor de transformação. Projetos pedagógicos antirracistas reformulam conteúdos, linguagens e rotinas.
Prevenção do racismo estrutural
- Inserir educação antirracista no currículo e no cotidiano.
- Diversificar referências, com autores, cientistas, artistas negros.
- Formar professores continuamente.
- Combinar regras de convivência com a comunidade, explicitando que racismo é crime.
Intervenção
- Acolher a vítima (sem expor), documentar o fato, comunicar responsáveis, conversar com quem praticou, e aplicar medidas pedagógicas.
- Acionar, se preciso, a rede de proteção (Conselho Tutelar/CREAS) e a gestão escolar.
- Em casos graves, orientar sobre caminhos legais, como delegacias especializadas ou denúncias na ouvidoria.
Pós-intervenção
- Retomar o tema em atividades pedagógicas, reparar o dano simbólico e monitorar possíveis repetições.
Conheça o projeto Ame Sua Mente na Escola
Por fim, é importante reconhecer que o racismo estrutural funciona como uma engrenagem histórica da nossa sociedade. Ele produz desigualdades, limita oportunidades e adoece.
No entanto, o reconhecimento é apenas o primeiro passo. Acolher, prevenir e enfrentar o racismo — seja na escola, na família ou no trabalho — é um compromisso coletivo. Ou seja, promover ambientes antirracistas significa promover saúde mental, fortalecer o sentimento de pertencimento e garantir um futuro mais justo para todas as crianças, adolescentes e comunidades.
Quando e onde buscar ajuda
- Sofrimento agudo como desesperança intensa, ideação suicida: CVV 188 (24h, gratuito) e SAMU 192.
- Acompanhamento: procure a atenção básica (UBS) e os serviços de saúde mental (CAPS).
- Denúncias: Disque 100 e a delegacia competente.
- Informações legais: GOV.BR.
Conheça também a página de ajuda do Instituto Ame Sua Mente: Precisa de ajuda?
Perguntas frequentes sobre racismo estrutural
É verdade que o racismo só existe quando há intenção?
Não. O racismo existe mesmo quando não há intenção explícita. É justamente nesse contexto que falamos em racismo estrutural, ou seja, um conjunto de práticas e normas que reproduzem desigualdades, ainda que de forma não consciente.
Qual é a diferença entre racismo e injúria racial?
Em termos gerais, o racismo viola direitos de um grupo, atuando de forma coletiva e estrutural. Por outro lado, a injúria racial é dirigida a uma pessoa, quando sua dignidade é atacada com base em características raciais. Já se analisarmos sob a perspectiva legal, desde 2023, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo, assumindo a mesma gravidade e as mesmas implicações penais.
Como falar com crianças sobre racismo estrutural?
Primeiramente, use uma linguagem simples e exemplos positivos. Em seguida, nomeie situações, valorize a diversidade e acolha perguntas — mesmo quando elas forem difíceis. Além disso, se a criança demonstrar sofrimento (como tristeza persistente, medo, isolamento ou recusa escolar), procure apoio na rede de saúde.
E se acontecer na minha escola?
Antes de tudo, acolha quem foi alvo da situação. Depois, registre o ocorrido e comunique os responsáveis conforme o protocolo da instituição. Por fim, transforme o episódio em aprendizagem coletiva, reforçando a cultura de respeito, equidade e cuidado.
Quer aprofundar o tema na sua escola?
- O Caderno de Letramento em Saúde Mental e Consciência Racial oferece reflexões, dados e estratégias para apoiar gestores, educadores e famílias no enfrentamento do racismo e na promoção do bem-estar.
- Entenda mais sobre o assunto em nossa ficha informativa: Por uma educação antirracista.
- Veja também: Racismo e infância.
- Assista o videocast | Violência nas escolas e a importância da cultura de saúde mental.